
10 de junho de 78.
***
Nesta entrevista Lula conta suas experiências de trabalho desde os 11 anos numa tinturaria, até seu emprego atual na Villares. Conta também que já chegou a acreditar "muito na legislação existente” e confessa que o que mais o impressiona é a solidariedade entre os trabalhadores. Caracteriza como torturante a relação a relação operário-máquina e não deixa de apontar a mesquinhez dos chefe. Mas fala também de problemas mais gerais da classe. Da necessidade de o trabalhador entender que greve não é baderna; das relações ente trabalhadores, multinacionais e empresários brasileiros; de sua conversa com o general Dilermando, comandante do II Exército; da Igreja, do movimento estudantil e da CGT.
***
Quais foram seus primeiros empregos? - Com 11 anos já trabalhava numa tinturaria. Ia à escola de manhã e à tarde entregava roupa. Saí de lá antes de fazer l4 anos e fui trabalhar como auxiliar de escritório. Era telefonista.
- Em que bairro morava? - No Ipiranga. Depois entrei numa fábrica, que me mandou para o Senai. Após três anos de curso eu me formei torneiro mecânico. E comecei a mudar de emprego, procurando melhor salário. Depois de formado, achei que a empresa que tinha me mandado para o Senai tentava me explorar, por julgar que eu devia favores a ela. Eles queriam que eu trabalhasse mais tempo, ganhando pouco, a pretexto de compensar os meses em que eu estive no Senai. Aí pedi a conta, com quatro anos e pouco de firma.
- Firma pequena? - Firma pequena, sim. Depois trabalhei 11 meses em outra empresa. Saí porque exigiam que eu fizesse e extraordinário aos sábados e eu não queria. Aí entrei na Villares, dia 21 de janeiro de l966. E estou lá até hoje.
- Você sempre teve consciência das falhas da legislação na proteção ao trabalhador? - Não. Numa determinada época d sua vida, o trabalhador, ainda despreparado, acredita muito na legislação existente. Só depois comecei realmente a perceber o quanto era falha a legislação. Foi quando comecei a freqüentar o sindicato, em l968. Percebi, então, que nem tudo era cor-de-rosa como queriam que fosse.
- Hoje, como presidente de sindicato, você precisa ter muito contato com os patrões. Como o trabalhador brasileiro vê seu patrão?
- Dificilmente o patrão desce à fábrica, aos operários. Esse contato fica para os intermediários, o relações-industriais das empresas. Pouquíssimos trabalhadores já conversaram com seus patrões. Há, por exemplo, um conceito generalizado entre os trabalhadores segundo o qual muita coisa ruim acontece na empresa porque o patrão não sabe. Mas eu acho que o trabalhador também vê o patrão – não como inimigo – mas como uma pessoa que tenta explorá-lo, que tenta tirar do trabalhador o máximo de lucro com o mínimo de despesa. É uma visão que passa a ter principalmente após perceber o quanto é importante o serviço que faz e como é pouco o que lhe pagam. Às vezes o trabalhador faz 10, 12, 15 ou 30 peças e nem sequer ganha o equivalente ao valor de uma única peça produzida. E quem percebe isso é principalmente aquele trabalhador profissionalizado, que foi à escola e fez curso.
- Que casos ocorridos em fábricas mais o impressionaram durante todos estes anos? - O que mais me impressiona é a solidariedade entre os trabalhadores. É comum a gente ter problemas, ficar sem dinheiro – por exemplo – até para condução, problemas em casa, essas coisas. E sempre os colegas se prontificam a ajudar. Quando entrei na Villares estava em situação financeira muito ruim. Às vezes não tinha dinheiro nem para o almoço, o café. Mas os companheiros ajudavam, davam vales de refeição. Outra coisa, quando se é novo no emprego, nota-se a vontade que os outros têm de ensinar, de ajudar. O novato sempre fica nervoso porque está sendo testado, mas o companheiro ajuda, pois está dentro das manhas da empresa e tudo. É uma solidariedade que marca muito. E sempre existiu. O que precisávamos - e o trabalhador parece agora tomar consciência disso – era tirar os problemas do campo individual, canalizá-los para o coletivo. Pois, afinal, o problema é de todos.
- Em São Paulo o trabalhador se diverte? Tem lazer? - Não. Todo trabalhador gostaria de chegar num fim de semana e ir parques, jardins, teatro. Mas nos grandes centros urbanos quase não existe lazer. Quando eu era solteiro, costumava fazer rodinhas de amigos no sábado à tarde. A noite, ia ao baile. Às a0 da manhã de domingo, costumava tomar umas biritas com os companheiros – e depois, baile outra vez. Depois de casado, o programa é visitar parentes e, quando o tempo ajuda, pescar na represa. Após o nascimento do caçula, não podemos mais ir ao cinema – não temos com quem deixar as duas crianças. Teatro, a gente não pode pagar, pois fica na base de Cr$ 70,00 a Cr$ 80,00 o ingresso. Uma vez fui ver o Costinha (2 ptos) 50 paus a entrada para mim e mais 50 para a mulher. E quando ela ficou sabendo que ía custar 100, protestou (2 ptos) “então é melhor gastar na feira.”
- Como você vê, na prática, o relacionamento do trabalhador com a máquina – tema de Chaplin em Tempos Modernos – e de muitos filmes italianos atuais? - É, de fato, torturante. O homem fica muito subordinado à máquina. Ele é preparado para se adaptar à capacidade de produção da máquina. Se essa capacidade é de 10.000 peças, o homem tem de produzir aquelas 10000 peças – tem que rebolar para conseguir essa quantidade. No caso do torneiro mecânico – e de outros profissionais – é um pouco diferente, porque o trabalho exige conhecimento técnico. Mesmo assim, não há liberdade para fazer a peça conforme a capacidade e a resistência física da pessoa, porque o tempo é marcado. Quando chega peça a ser feita, a gente já estranha, pois o nosso tempo de serviço vai ser calculado por um cara que nunca mexeu com a peça. Essa gente calcula, por exemplo, duas horas para a peça. Se fazemos em menos de duas horas, sabe o que acontece? A peça seguinte àquela terá prazo menor. E quando se gasta três horas, por exemplo, para um serviço marcado para duas, a chefia vem em cima, diz que estamos fazendo corpo mole.
- E quem são os chefes? - Aí está um problema. Nem sempre foram escolhidos por terem mais capacidade que os subordinados. Como não existem critérios, às vezes são escolhidos os mais enérgicos, os piores de cada seção – aqueles que, na linguagem popular, são conhecidos como puxa-sacos. A primeira coisa que alguns deles fazem após assumir a chefia é deixar de cumprimentar os colegas.
- Por orientação da empresa? - Não sei se é orientação da empresa ou falta de personalidade do sujeito que firma como chefe pisando nos outros. Todo chefe novo é mais enérgico que os velhos. Assim, acho que, por falta de liderança, a primeira coisa que ele acha necessário é ficar inimigo dos demais. Pessoalmente, acho que o respeito tem de ser adquirido e não exigido. Mas em geral a fábrica escolhe para chefe aquele com capacidade de se tornar logo inimigo dos demais, para não dar moleza ao trabalhador.
- E o chefe ganha muito mais? - Não muito. Em média o líder deve ganhar 15 ou 20% mais que o melhor salário da seção.
- As empresas nacionais copiam métodos e organogramas das estrangeiras? - O trabalhador geralmente responde que é melhor trabalhar em multinacional. Porque paga melhor que a nacional. Como brasileiro, defendo o capital nacional. Como dirigente sindical, tenho de registrar que, para os empresários brasileiros, tanto faz ganhar dinheiro aqui como lá fora, exatamente como as multinacionais; importa é o lucro. Muitos empresários liberais dentro de suas fábricas não admitem sequer um acordo coletivo com os empregados – e tratam o trabalhador tão duramente como qualquer multinacional. E remuneram tão mal quanto as empresas estrangeiras. Eles não podem pura e simplesmente querer a defesa do capital nacional em benefício deles, empresários. Já estava na hora de se pensar na defesa do capital nacional em beneficio também da classe trabalhadora. Com isso o empresário nacional mostraria que tem vontade de ver os problemas resolvidos primeiro pelos brasileiros. A primeira providência é celebrar acordos coletivos em todas as empresas nacionais. Assim seria mais fácil mostrar que não é justo vir explorar os brasileiros. As nacionais tinham de ser melhores não apenas na questão salarial, mas também no tratamento dos trabalhadores. Apesar disso, são todas iguais!
- Alguns o acusam de ter sido treinado junto a lideranças americanas. É verdade? - Passei só um dia nos Estados Unidos, fazendo escala numa viagem de volta ao Japão.
- Uma firma chamou o Ministério do Trabalho e o Deops para reprimir a greve. Você acha que no futuro a questão social deixará de ser caso de polícia? - Em primeiro lugar, acho que a partir do momento em que não há baderna, em que a classe demonstra tanta consciência – o trabalhador, pacificamente, apenas desliga sua máquina e fica parado - não vejo por que a intervenção policial. Acho que houve atitude madura e política até dos órgãos de segurança, deixando de intervir. A polícia poderia intervir se o trabalhador estivesse depredando máquinas, danificando o patrimônio.
- Na nossa história sindical a polícia tem sido sempre protagonista... - Mas também em alguns movimentos a gente provoca a intervenção. Meses antes da greve eu vinha alertando que greve não é sinônimo de baderna, e sim de maturidade. Agora, os trabalhadores de São Bernardo do Campo demonstram que estão maduros e bem preparados para fazer greve. Para mim, esse foi o grande motivo que afastou a polícia. Procurei contato com o general Dilermando, comandante do II Exército, exatamente pela minha preocupação com os antecessores. Antes, a greve significava pau em cima. Mas senti na pessoa do general muita compreensão para com os problemas do trabalhador.
- Como foi essa conversa? - Foi no quartel. E falamos de tudo. Levei ao general a visão do trabalhador. Pois em geral as autoridades conversam diretamente com os empregadores – e, com isso, praticamente só ouvem um lado. Procurei mostrar o outro lado – o do trabalhador, que ao fazer greve não estava fazendo subversão.
- Mas o ministro da Fazenda não considerou a greve ilegal? - Evito usar as palavras legal e ilegal. Achei decepcionante a baixeza e a falta de ética de um advogado patronal ao acusar o sindicato. E lembrei que havia um motivo maior para as maquinas pararem – a dor de estômago -, a vontade de ganhar um pouco mais. Eu diria que foi até muito bom. Muita gente esperava abono de emergência, mas isso não resolve. O trabalhador quer reajuste. O próprio governo percebeu que não devia dar abono. É um problema nosso, que deve ser resolvido com o patrão. Conforme expliquei ao general Dilermando, temos o espírito de brasilidade que os empresários – principalmente os das multinacionais – não têm. Ninguém gosta mais desta terra do que o trabalhador.
- Alguns sugeriram que os empresários perderam a disputa por burrice. Que acha disso? - Procuro alertar as autoridades para o cinismo dos empresários. Nenhum deles admite abrir mão sequer de 0,000005 de seus lucros. Durante anos ganharam dinheiro como ninguém ganhou na face da Terra. Agora, jogam a batata nas mãos do governo. É impressionante sua facilidade em culpar o governo por tudo.
- O superintendente da Scania alega já terem sido formadas na empresa comissões de trabalhadores. - Costumo dizer que, em termos de empresários, o Brasil é terra-de-ninguém. Pelo menos em relação às estrangeiras. Fica difícil resolver um problema aqui quando o poder de decisão está na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos. Ninguém assume a responsabilidade de discutir com o trabalhador.
- No sindicato vocês já sofreram ameaças? - Não. Estaria mentindo se dissesse que sim.
- Em que estágio se encontra a greve no ABC? - Para mim está como começou. Não está acabando. Algumas empresas voltaram a trabalhar, outras estão parando. A greve só vai parar quando for concedido um reajuste geral a todos os trabalhadores.
- Em que legenda pretende votar a 15 de novembro? - Prefiro manter meu voto secreto. Se houver um candidato trabalhador, terá meu voto.
- Acha mesmo que a Igreja age hoje apenas por remorso ao defender os trabalhadores? - Não tenho porque me retratar. Historicamente a Igreja sempre foi conservadora. No momento, tem papel importante através de alguns de seus representantes; o que não significa que esteja ao lado dos trabalhadores.
- E os estudantes? - Em tudo existe gente ruim e gente boa. Ruim no sentido político, e não moral. Conheço estudantes extraordinários. Mas também conheço um grande número de estudantes levianos, pouco responsáveis. E discordo de setores do movimento estudantil que se julgam no direito de tutelar a classe trabalhadora. O movimento estudantil tem papel importante nas transformações políticas, mas eu gostaria que os estudantes deixassem a classe trabalhadora agir por conta própria. Só os trabalhadores poderão resolver o problema dos trabalhadores.
- E qual seria a política ideal para os trabalhadores? - A que permitisse a participação e igualdade de condições com outros setores da sociedade. Em termos salariais, a contratação coletiva do trabalho. Com o pleno exercício do direito de greve.
- E a CGT? - Na estrutura sindical, criar uma CGT seria criar mais um cabide de empregos – uma cúpula sindical – com poucos resultados para os trabalhadores. No Brasil de hoje já há dirigentes sindicais sérios e dispostos a servir a classe.
Manchete, 10 de julho de l979 Entrevista concedida a Nélson Blecher
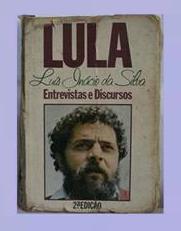

Nenhum comentário:
Postar um comentário